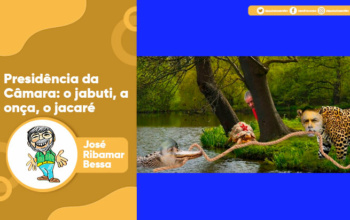– “Para esses povos de tradição oral, fazer a travessia para o mundo da escrita, só isso já é épico. […] É bom não esquecer que os jesuítas vieram para cá pra botar escolas e catequisar os índios e ensinar eles a ler e escrever. Enquanto os índios puderam resistir, não aprenderam nem a ler nem a escrever. Então seria interessante a gente investigar se quando os índios estão lendo e escrevendo, se já se renderam ou se ainda estão resistindo” – sugere Ailton Krenak no texto “A antropologia e seus espelhos: a etnografia vista pelos observados”.
Rendição ou resistência? Essa travessia ao mundo da escrita já foi feita pelos 56.750 estudantes indígenas matriculados hoje em cursos de graduação de universidades brasileiras (Censo do INEP 2017). Dá para lotar o Maracanã. O que querem eles? Como são tratados? Que dificuldades enfrentam? O que farão, afinal, com o diploma de curso superior? As pesquisas sobre o tema são ainda poucas. Uma delas é a tese de doutorado defendida nesta quinta (9) na Universidade Federal do Pará por Flávia Marinho Lisboa, aprovada com recomendação para ser publicada.
A nova doutora concentrou sua investigação na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) onde estudam 96 indígenas de diferentes etnias. Entrevistou, em rodas de conversa, alunos do povo Gavião – ele são 52 – que saem de suas aldeias para estudar no Campus de Marabá e “buscam o ensino superior a 30 k, de distância como estratégia de defesa de seu território, língua, cultura”. Entre 2016 e 2019, ela observou o relacionamento deles com a instituição, com os colegas, com os professores, o que lhe exigiu conhecer mais de perto os Gavião.

Duas vidas
O povo Gavião reúne três grupos do povo Timbira: os Parkatejê, os Kyikatjê, e os Akrãtikatejê, que vivem em 16 aldeias da Terra Indígena Mãe Maria. Eles decidiram se unir para enfrentar a invasão de seus territórios decepados por extratores de castanha, pela construção da hidrelétrica de Tucuruí, pelos linhões de energia da Eletronorte e pelos trilhos da Estrada de Ferro Carajás, da Vale do Rio Doce – aquela empresa responsável, entre outras, por mais de 230 mortes em Brumadinho.
Nessa trajetória, o dado novo agora é a universidade. Durante as rodas de conversa com universitários indígenas, Flávia Lisboa ouviu depoimentos que determinaram os rumos de sua pesquisa, como a fala de Pempoti, estudante Gavião Akrãtikatejê de Ciências Sociais:
– “Eu sempre falo que nós temos dois tipos de vida. Na aldeia nós somos nós mesmos, mas na universidade nós somos outros personagens. É outro tipo de vida, de compreensão. Às vezes a gente vai na rua e as pessoas ficam olhando para gente, assim … o povo ainda tem essa visão de estranhamento, porque não sabe da história de Marabá que sempre teve população indígena ao redor”.
Se os Gavião tem um pé na universidade e outro na aldeia, a pesquisadora, que tem um pé na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde é professora, colocou seu outro pé na aldeia. Realizou de 2017 a 2018 nove visitas à Terra Indígena Mãe Maria para entender melhor o que os índios estavam falando. Estabeleceu assim um diálogo, na metodologia usada, entre a etnografia e a análise do discurso apoiada em Foucault, o que – segundo ela – ampliou sua percepção da produção dos sentidos, que seriam limitados se isolados da experiência vivida com os alunos em seus respectivos territórios.
A colonialidade
 – “Fui a aldeia para compreender o que é um aluno indígena na universidade” – ela escreveu, reconhecendo que inicialmente teve dificuldades de se guiar no novo universo onde experimentou um sentimento de estranhamento “com os sons da língua Parkatêjê falada pelas mulheres mais velhas, desconfiadas com minha presença ali”.
– “Fui a aldeia para compreender o que é um aluno indígena na universidade” – ela escreveu, reconhecendo que inicialmente teve dificuldades de se guiar no novo universo onde experimentou um sentimento de estranhamento “com os sons da língua Parkatêjê falada pelas mulheres mais velhas, desconfiadas com minha presença ali”.
Uma dessas aldeias é formada por casas de alvenaria, mas dispostas no modo circular dos Timbira: – “Foi indo à aldeia que entendi melhor as dificuldades relatadas pelos alunos. Foi percebendo as matrizes culturais vivas dos Gavião, a cosmovisão diferenciada e o funcionamento de outro espaço-tempo, o da aldeia, que pude entender o aluno tímido e acuado, atravessado pela colonialidade. O “estar lá” na TI Mãe Maria me fez entender porque se sentem tão inseguros no espaço da universidade e com dificuldades para se “encaixar” no mundo ocidental acadêmico.
Embora possuam suas especificidades, os Gavião compartilham problemas comuns aos demais indígenas, como a maior ou menor facilidade de lidar com a leitura e produção textual nas atividades acadêmicas, o terror dos seminários e das resenhas, a monitoria, o uso da internet, o transporte da aldeia para a cidade, o racismo não velado na sala de aula, a discriminação, especialmente em relação à variante do português indígena, o que provoca tensões e até a desistência do curso. “Uma variedade linguística ‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade os seus falantes” – segundo Mauricio Gnerre.
A presença indígena na universidade – diz Flávia Lisboa – “constrange as estruturas públicas que não conseguem conter seu racismo institucional”, no que diz respeito à língua e ao conhecimento assentados numa racionalidade monocultural. Cita Boaventura Souza Santos para quem “a democratização da universidade mede-se pelo respeito ao princípio da equivalência dos saberes […] A universidade será democrática se souber usar o seu saber hegemônico para recuperar o desenvolvimento autônomo de saberes não hegemônicos, gerados nas práticas das classes oprimidas.
A língua
Essa é uma das fontes da discriminação: a hierarquização de saberes, que produz uma blindagem epistêmica desde o período colonial e predomina até hoje quando a universidade, que ainda opera com tal dispositivo, classifica como “crendice” os conhecimentos tradicionais. O lugar de inferioridade atribuído pela universidade aos saberes que os índios trazem da aldeia desprestigia os sujeitos que neles fundamentam sua existência, ocasionando o epistemicídio e o glotocídio.
A pesquisa menciona como fonte inspiradora outra instituição – a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – que assumiu uma postura decolonial, pois além da seleção de alunos feita pelo Processo Seletivo Especial Indígena, implantou uma estrutura curricular diferenciada dos tradicionais cursos de graduação.
 Um capítulo é dedicado à língua, que “estrutura o pêndulo oscilante entre a presença e a ausência do estudante indígena no território acadêmico, visto que sua presença nesse espaço ainda era ausente, por não dominarem a língua necessária para se fazerem vistos e ouvidos”. E aqui se refere não apenas ao uso restrito da língua, mas em outras práticas sociais como circular com êxito nos vários ambientes acadêmicos, executar ações que requerem conhecimentos da linguagem informatizada, compreender e produzir textos, usar o português padrão nos trabalhos escritos e nos seminários.
Um capítulo é dedicado à língua, que “estrutura o pêndulo oscilante entre a presença e a ausência do estudante indígena no território acadêmico, visto que sua presença nesse espaço ainda era ausente, por não dominarem a língua necessária para se fazerem vistos e ouvidos”. E aqui se refere não apenas ao uso restrito da língua, mas em outras práticas sociais como circular com êxito nos vários ambientes acadêmicos, executar ações que requerem conhecimentos da linguagem informatizada, compreender e produzir textos, usar o português padrão nos trabalhos escritos e nos seminários.
A tese abre espaço para falas de alguns caciques como Akroiarere Parkateje, que destaca a importância dos universitários indígenas “para garantir os direitos e o futuro da comunidade”. Zeca Gavião da aldeia Kyikatêjê, que alerta: “Eu sempre falo pra eles que estão estudando: vocês não podem esquecer de onde vocês vieram, o que vocês são”. E a cacique Kátia Akrãtikatêjê aconselha: “você vai estudar e enriquecer seu conhecimento e quando voltar vai passar pra comunidade, nunca deixando de ser quem você é”.
Para Flávia Lisboa, tudo indica que o próximo passo do povo Gavião é “demandar revisões nas metodologias de ensino, na burocracia, no currículo, nas abordagens epistemológicas e também na colonialidade linguística imperante nesse espaço” para que seus alunos tenham condições não apenas de acessar, mas de permanecer e finalizar a graduação, seriamente ameaçada pelo governo Bolsonaro.
– “Agora entendo a resistência indígena” – concluiu Flávia. “Não estamos lidando com um aluno comum, mas com um remanescente de uma guerra, que hoje busca na universidade instrumentos para fortalecer seu povo nesse continuum de embate que não cessou. Um aluno que no contato com a sociedade nacional está em busca de instrumentos, que são os conhecimentos construídos pela ciência moderna, para lidar com o branco que os ameaça no cotidiano presente”.
P.S. – Flávia Marinho Lisbôa: “Língua como linha de força do dispositivo colonial: os Gavião entre a aldeia e a universidade”. Tese. Letras. UFPA. 2019. Banca: Ivânia Neves (orientadora), Ângela Chagas (UFPA), Rosário Gregolin (UNESP), Jerônimo Silva (UNIFESSPA) e José R. Bessa Freire (UNIRIO/UERJ).
Esta “balbúrdia” foi precedida por outras recentes “balbúrdias” sobre o tema, das quais participei como membro das bancas:
1) Luis Enrique Rivera Vela. Incluídos e Invisíveis? Estudantes indígenas em universidades no Peru e no Brasil. 2019. Tese em Antropologia UFF.
2) Marcos André Ferreira Estácio. Juventudes Indígenas em Espaços Urbanos amazonenses: narrativas saterê-mawé. 2019. Tese em Educação. UERJ
3) Patrick de Rezende Ribeiro. Tradução como to`mpey: tentativas de reparação das histórias, das identidades e das narrativas indígenas. 2019. Tese. Estudos da Linguagem. PUC-RJ
4) Luciano Cardenes Santos. Da tutela à interculturalidade: projetos indigenistas, educação superior e autonomia Tikuna. 2018. Tese em Antropologia Social. UNICAMP
5) Ana de Melo. Dja Guatá Porã: O Conselho Indigenista Missionário na trajetória do Movimento Indígena no Brasil (1972-1988). 2019. Exame de qualificação. Doutorado em História – UERJ.
6) João Gabriel da Silva Ascenso. A revolta indígena’: o índio que se movimenta e seu conteúdo cosmológico e político entre os anos de 1970 e 1980. 2019. Exame de qualificação. Doutorado em História Social da Cultura – PUC/RJ.
Para garantir a continuidade de todas essas “balbúrdias” que o ministro da Educação quer acabar, estaremos todos na greve nacional da educação no dia 15 de maio.