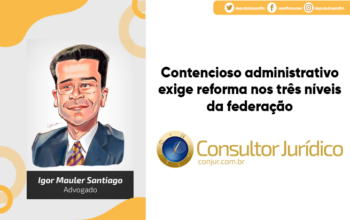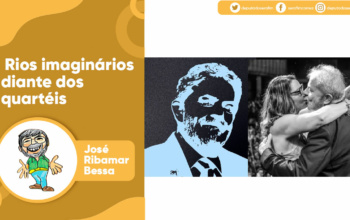A minha primeira palavra é de agradecimento. Desproporcional, contudo, à generosidade dos que me acolheram nesta Academia Internacional de Direito e Economia, por sugestão de Hamilton Dias de Souza, prontamente acolhida por Ives Gandra e Ney Prado.
As amáveis palavras de Ives Gandra, ao recepcionar-me nesta Casa, guardam o estilo brilhante que ele sempre confere a seus escritos, sem abdicar do pensamento vigoroso e consistente por todos reconhecido. A tudo isso, acresce o tempero da amizade que muito me engrandece.
Honra-me ocupar a cadeira de Miguel Colasuonno. No exercício da função pública, muitas vezes nos entrecruzamos.
Miguel Colasuonno era um paulistano típico, com exuberante alma italiana. Sua inteligência privilegiada, capacidade de liderança e operosidade explicam, em boa medida, sua enorme polivalência.
Economista pela Universidade de São Paulo, fez pós-graduação nessa mesma universidade, com especialização em comércio internacional e câmbio, para posteriormente obter o título de mestre e doutor pela Vanderbilt University, em Nashville, Tennessee.
Na vida acadêmica, foi professor e diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE) da Universidade de São Paulo.
Exerceu inúmeros cargos públicos. Foi titular da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, Coordenador de Projetos Especiais da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e, por último, diretor da Eletrobrás.
Foi Prefeito de São Paulo aos 34 anos. Foi também vereador nessa cidade, por duas legislaturas, tendo presidido a Câmara de Vereadores.
Militou, também, na vida sindical, como presidente da Ordem dos Economistas e do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo.
Senhoras, senhores
A função pública foi o sal da minha vida. Tentei exercê-la, como predicava meu ilustre conterrâneo Joaquim Nabuco, como uma atividade missionária, centrada no servir.
Tomo para mim as palavras de Otávio Mangabeira:
“Tive a fortuna ou a desgraça de arremessado, ainda estudante, no campo do que se chama a vida pública, passar a pertencer a uma raça amaldiçoada: a dos que fazem da vida pública um ofício, por ela renunciando a tudo mais, por ela penando, mas perseverando e quanto mais por ela conduzidos à decepção e ao revezes, tanto mais resolutos na certeza, que para muitos não passará de ilusão, de cândida e infausta ilusão, de que é ela, quando honradamente exercida, uma forma entre as mais altas, quem sabe a mais expressiva, porquanto a mais onerosa e menos reconhecida, de amar e servir à Pátria.”
Como premonição, talvez, do que viria a exercer, no futuro, aprendi a ler nas dependências de uma agência da Receita Federal – então chamada de Coletoria – na minha Pesqueira, no agreste pernambucano.
O exercício dos cargos de Secretário da Receita Federal e da Fazenda de Pernambuco e do Distrito Federal, por longos dezesseis anos, foi um rico aprendizado. Dele extraí algumas lições.
Os sistemas tributários são modelos dinâmicos, que demandam contínuos aperfeiçoamentos, que lhes permitam responder adequadamente às inevitáveis mudanças nas circunstâncias econômicas, sociais e políticas. Reforma tributária não é um evento, mas um processo permanente. Tampouco é uma ideia inequívoca, porque traduz percepções distintas dos problemas tributários e suas soluções.
São as tensões políticas que determinam a configuração dos sistemas tributários e não as concepções abstratas, malgrado elas possam servir como ponto de partida para as discussões. Aqui, é de lembrar, cuida-se essencialmente do poder, o de extrair a renda da sociedade e o de reparti-la entre os entes públicos. E o poder integra o domínio da política.
Esse entendimento não autoriza, todavia, concluir que o debate tributário seja destituído de fundamento técnico. O que se pretende é assinalar a natureza intrinsecamente imperfeita dos sistemas tributários.
Essas duas lições conduzem a uma terceira. Refiro-me ao risco de constitucionalização abusiva do sistema tributário, mormente no que concerne à matéria técnica que não se inclui no âmbito dos princípios gerais da tributação e dos fundamentos do federalismo fiscal.
Temos uma Constituição que, em consonância com seu caráter excessivamente analítico, não se compadece com a necessidade de alinhamento do sistema tributário às novas realidades. Em consequência, torna-se difícil a superação dos muitos problemas que inevitavelmente vão se acumulando ao longo do tempo.
Sempre que possível, as reformas devem caminhar pela via infraconstitucional, fixar-se em questões estratégicas e evitar pretensões abrangentes que maximizam as tensões políticas.
Como de hábito, no início do próximo mandato presidencial reinaugura-se o debate tributário, que pode desdobrar-se em três planos: tamanho da carga tributária, federalismo fiscal e qualidade do sistema tributário.
As discussões sobre carga tributária encerram um erro recorrente. Quem determina a carga tributária é o montante dos gastos públicos e não os tributos. Entre eles há um nexo de causalidade. Estaremos, então, falando do tamanho do Estado.
Muitos perfilham a coexistência da expansão dos gastos públicos com a redução da carga tributária. É uma ideia generosa, porém ingênua.
Reduzir a carga tributária significa deter-se no orçamento público e fazer escolhas de gastos. Trata-se de missão penosa, pois nenhuma despesa é órfã e nenhum governo é parcimonioso.
O orçamento público, no Brasil, é matéria que só interessa a seus beneficiários diretos. O processo orçamentário degradou-se completamente, convertendo-se em mero conjunto de procedimentos formais, sem que esse fato tenha sido capaz de recrutar iniciativas de reforma.
O federalismo fiscal demanda uma revisão completa. Talvez, seja o momento de cogitar-se de um código de federalismo fiscal, com autonomia em relação ao Código Tributário Nacional e fundado em previsão constitucional a ser instituída, que possibilite articular conceitos, definir critérios racionais para as transferências compulsórias e voluntárias, prevenir litígios tributários, promover a cooperação intergovernamental e implementar a integração regional.
No âmbito da qualidade do sistema tributário, existe uma miríade de questões, que remetem à competitividade econômica, aos direitos dos contribuintes, à justiça fiscal, à simplificação e à desburocratização.
A apresentação de propostas ultrapassa a dimensão estritamente técnica, porque requer a formulação de uma estratégia de negociações que envolvem parlamentares, governadores, prefeitos, corporações de servidores fiscais e entidades representativas dos contribuintes.
Não é uma tarefa fácil, sobretudo agora quando o País emerge profundamente dividido da campanha eleitoral, com fortes repercussões sobre os requisitos de confiança e reciprocidade na sociedade brasileira.
Jamais se viu, em um pleito presidencial, tamanha agressividade, sordidez, manipulação e arroubos mitômanos.
O cenário pós-eleições parece extraído de um antigo texto sagrado da Índia:
“As grandes borboletas, após o combate, vêm pousar sobre os guerreiros mortos e sobre os vencedores adormecidos”.
O confronto afastou, ao menos no curto prazo, qualquer possibilidade de consensos. Extrapolou, ademais, o embate eleitoral para ensejar lamentáveis antagonismos entre classes sociais e entre regiões.
Em sua França, tantas vezes conflagrada, proclamava De Gaulle: “Eu não quero opor, nem que seja para triunfar, eu quero reunir”.
A ninguém é dado desconhecer que estamos vivendo uma grande crise econômica. Mais que isso, há uma formidável crise de valores.
Nesses momentos, cumpre ao estadista reconhecer a crise, compreendê-la com serenidade e discernimento, e tratá-la com eficiência e determinação, sem lugar para voluntarismos inconsequentes e ideias patrocinadas por uma ignorância que não se presume como tal.
Quando da queda da França, Winston Churchill iniciou seu discurso à Nação com sete palavras francas e comoventes: “As notícias da França são muito ruins”.
A altivez do estadista não exclui, contudo, a humildade. Dizia Nelson Mandela: “Nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso grande medo é que sejamos poderosos. Além da medida, é nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos atormenta”.
Não iremos superar nossas dificuldades econômicas com manipulações de preços administrados, manobras de “contabilidade criativa” e intervencionismo despropositado na economia.
As manipulações e manobras são patéticas. Já o intervencionismo só é festejado por seus eventuais beneficiários, na melhor tradição patrimonialista.
É certo que as transferências de renda têm sido um poderoso instrumento para mitigar a chaga das desigualdades sociais no País. Se, todavia, não resultarem em promoção social efetiva, que torne os beneficiários independentes delas, terá sido um fracasso. Será uma fraude, que tão somente reproduz velhas e deploráveis práticas de aliciamento político, já descritas em “Coronelismo, Enxada e Voto”, notável obra de Victor Nunes Leal, editada em 1949. Poderemos estar construindo um novo coronelismo.
Precisamos mais do que isso. Não há saída econômica para o Brasil que dispense aumento da produtividade, maior flexibilidade nas relações trabalhistas, redução da burocracia e, sobretudo, controle implacável da inflação.
Ainda não se compreendeu que, em cinquenta anos, o País deixou de ser majoritariamente rural. Hoje, 85% da população reside nas cidades. A despeito disso, continuamos com a agenda caduca da reforma agrária, imaginada para deter um “êxodo rural” que já ocorreu.
Acumulam-se problemas de mobilidade urbana, saneamento básico e ambiental, educação e saúde, sem que exista uma estrutura federativa sequer capaz de lidar com esses problemas. A violência alcançou patamares inimagináveis, sendo alimentada pela ineficiência do aparato policial e pela tragédia do sistema prisional. A juventude está sendo massacrada pelo consumismo, hedonismo e drogas. A combinação desses problemas produz um difuso e permanente quadro de mal-estar social nas cidades.
Há, também, uma crise de valores, que pode ser simbolicamente reduzida à impressionante justificativa dada para conhecidos crimes julgados, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal: “é um mero caixa dois”.
Parece haver, no Brasil, uma leniência social com a corrupção, contrastando com o que afirmara Tony Judt, em “Um tratado sobre nossos atuais descontentamentos”:
“Somos todos filhos dos Gregos. Compreendemos intuitivamente a necessidade de um sentido de direção moral: não é preciso conhecer bem Sócrates para sentir que a vida sem questionamento não tem grande valor”.
A virtude na vida pública é uma construção árdua. Representa a espinha dorsal de uma Nação. Ao homem público não basta ser honesto e, como a mulher de César, parecer honesto. O homem público, cada vez mais raro, tem que ser também exemplar.
A tentação totalitária tem muitas faces, que se traduzem em preocupantes ameaças à liberdade.
De quando em quando, despontam teses que, a pretexto de controle social da mídia, pretendem tolher a liberdade de imprensa ou que, no propósito de disciplinar a participação popular na formulação de políticas públicas, confrontam abertamente a democracia representativa.
Agora se anuncia a intenção de convocar um plebiscito para aprovar uma reforma política, na esteira de um neo-cesarismo que emergiu recentemente em alguns países latino-americanos.
O eleitor teria condições de optar entre voto distrital, distrital misto, proporcional ou distritão? Financiamento público, privado ou misto das eleições? Lista fechada ou aberta? São todas questões técnicas, pouco afetas à pessoa comum.
Resta saber aonde se quer chegar. Reduzir o custo das campanhas? Melhorar a qualidade da representação popular? Coibir a corrupção eleitoral?
Só existe uma forma de reduzir o custo das campanhas: contingenciar os gastos. Caso contrário, qualquer que seja a forma de financiamento, o custo será elevado, independentemente da legalidade ou não do financiamento.
A corrupção eleitoral somente poderá ser enfrentada se houver, ao menos, um disciplinamento das emendas parlamentares ao orçamento público e a vedação às indicações políticas para o exercício dos cargos públicos.
Senhoras, senhores
Para finalizar, permitam-me fazer o elogio da esperança.
No templo de Apolo, em Delfos, lia-se: nada em demasia. Foi essa a mais expressiva forma para sintetizar o equilíbrio apolíneo da alma helênica.
Já os romanos, como ensinava Miguel Reale, enxergavam na prudência, identificada como sapiência e sabedoria, a mais importante das virtudes que integram a ética. Foi por essa razão que os fundadores da ciência do direito deram-lhe o nome de jurisprudência.
Raymond Aron, no já longínquo ano letivo de 1955-1956, dizia a seus alunos na Sorbonne:
“Decerto este curso não se destina a ensinar o que vocês devem pensar; mas desejaria que ele lhes ensinasse duas virtudes intelectuais: a primeira, o respeito aos fatos; e a segunda, o respeito aos outros.”
Hoje, há, no Brasil, lugar para a moderação, a prudência, o respeito aos fatos e o respeito aos outros? – Tenho sérias dúvidas.
Ninguém, entretanto, pode demitir de si a utopia. Afinal, o fim da esperança pode ser tido, também, como o início da morte.
Obrigado.